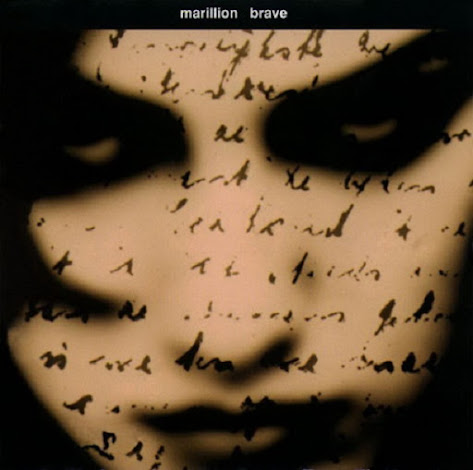Um amigo
sempre me falou: a graça das listas é a pequena quantidade de obras dentro
delas, que faz com que valorizemos as que entraram e lamentemos as ausentes.
Outro amigo prefere as listas amplas, como as de 100 discos de 1977 ou de 1983
que fiz no melomania anos atrás. Bom, uma lista ampla de discos antigos requer
muito mais trabalho, e mesmo uma de 100 daria espaço para uma série de
injustiças. Desse modo, opto por uma lista menor, sabendo que as injustiças
serão grandes, mas os presentes estarão bem salientados.
Lista é gosto
pessoal, pura e simplesmente. Também no gostar ou não delas. Quem não gosta de
fazer ou ler listas, não precisa entrar para xingar. Basta ignorar este post do
melomania e os posts que o divulgarem nas redes sociais. É como fazem as
pessoas civilizadas. Quem quiser me mandar sugestões entre as inúmeras obras
que deveriam estar presentes, fique bem à vontade. Faz parte do jogo e é
divertido que seja assim.
* *
* * *
Entendo 1975
como um ano de espera, em que alguns estilos que dominaram a primeira metade da
década, como o prog rock e o glam rock, estavam em um impasse. Por outro lado,
a disco music já se insinuava enquanto o soul e o funk estavam a milhão. E as
fusões de jazz com o rock e com o funk praticamente dominaram toda a música
mainstream dos anos 1970, até mesmo no Brasil. Talvez o jazz, em suas ricas
matizes, foi para os anos 1970 o que as matizes da música eletrônica foram para
os anos 1980. Penso que a lista final reflita exatamente isso.
DISCOS
01. Gilberto
Gil – Refazenda
Provavelmente
o disco mais impressionante lançado no Brasil em todos os tempos, ultrapassando
os três ou quatro dos Novos Baianos que mereciam entrar nessa briga. Refazenda
tem rock, jazz, xote, "lamento", música para "tocar no
rádio" e o que mais quisermos classificar, em algumas das melodias mais
belas que Gil criou.
02. Led
Zeppelin - Physical Graffitti
The Lamb
Lies Down on Broadway
(Genesis), Songs in the Key of Life (Stevie Wonder) e You Are What You Is (Zappa) podem conseguir empate, mas nenhum outro
álbum duplo supera esta pérola que o Led Zeppelin lançou em 1975, compilando
músicas novas que dariam mais de um disco simples com algumas sobras do Led
IV e do Houses of the Holy. Magnifico.
03. Frank
Zappa and the Mothers of Invention - One Size Fits All
The Mothers
era a banda de Zappa antes que a gravadora impusesse o "of
invention", com que este discaço de jazz rock e progressivo é creditado. O
LP surge logo após a série de álbuns mais radiofônicos (Overnite Sensation,
Apostrophe, Roxy & Elsewhere), coroando uma fase extraordinária do
músico, a que tem em suas fileiras o mago George Duke (que, por sua vez, lançou
dois discos excelentes em 1975).
04. Black
Sabbath – Sabotage
Disco que
encerra a melhor fase da banda, que começa com Master of Reality para ao
todo quatro discos impecáveis de metal pesado em sequência (e ainda lançariam o
magnífico e injustiçado Never Say Die), Sabotage é aquele em que
encontramos Ozzy no auge, com uma voz que penetra em nossos ouvidos como algum
gás contagiante. Todas as faixas aqui se tornaram clássicas, das mais
tradicionais às mais malucas. Se Vol.4 é o marco fundamental do stoner
rock, este disco é o ápice do rock.
05. Jorge
Ben - Solta o Pavão
Não é que
1975 foi um ano sensacional para a música brasileira. É que qualquer ano da
década de 1970 foi sensacional para a música brasileira. Solta o Pavão,
se não for o melhor disco de Jorge Ben (e isto quer dizer muito), é sem dúvida
um dos três melhores. Imagino quantos não cantavam, em uníssono, ao verem Ben
se aproximar de alguma roda: "O rei chegou, viva o rei".
06. Parliament
- Mothership Connection
Em 1975, o
Parliament (mais funk) e o Funkadelic (mais rock) estiveram próximos como nunca
antes, ainda que as bandas continuem com suas identidades particulares sob a
maestria de George Clinton. Enquanto o Parliament lançava seu melhor disco, Mothership
Connection, Funkadelic lançou um disco menor (Let's Take it to the Stage)
após a obra-prima Standing on the Verge of Getting it On, de 1974.
07. Queen
- A Night at the Opera
Terceiro de
uma trinca perfeita da banda, iniciada com Queen II e continuada com Sheer
Heart Attack. Talvez esteja aqui a faixa mais impressionante composta por
Freddie Mercury: "Death on Two Legs". "'39" é a culminação
dos flertes de Brian May com a música americana e "The Prophet's
Song" é mais uma obra-prima de sua lavra com o Queen. E quem diz ter
enjoado de "Bohemian Rhapsody", sinceramente, nunca gostou de verdade
da música (ou "de música"?).
08. Brian
Eno - Another Green World
Terceiro
disco de Eno, em pé de igualdade com os dois primeiros, já se insinuando nos
caminhos que Eno trilhará a seguir, algo entre o rock e a ambient music já bem
definida no disco Evening Star, creditado a Eno e Fripp, que seria
lançado no fim do mesmo ano.
09. Earth
& Fire – To the World of the Future
Num ano cheio
de belos discos de progressivo que bateram na trave (certamente numa lista de discos
de 1974 e, principalmente, de 1973 ou 1972, teria mais discos de prog), este da
banda holandesa é pop demais para agradar os proggers mais radicais (e bobos,
eu diria) e progger demais para agradar aos mais poppers. É o mesmo problema
enfrentado por outra banda holandesa, o Kayak. Azar de quem tem esses
preconceitos, pois são duas grandes bandas.
10. Smokey
Robinson – A Quiet Storm
O terceiro
disco solo de Smokey é um compilado involuntário de melodias celestiais, ou
seja, uma coletânea involuntária com algumas canções do nível das melhores que
ele escreveu com sua antiga banda, The Miracles. Baladas soul e músicas de
apelo pop com arranjos delicados, sofisticados e muito bem produzidos.
11. Fela
Kuti – Excuse-O
O nigeriano
Fela Kuti lançava vários álbuns por ano, quase sempre com um grande nível de
excelência, sobretudo nos anos 1970. Este disco meio que representa vários
outros que o músico gravou no mesmo ano com sua banda Afrika '70 e poderiam
estar aqui. Um gênio do chamado afrobeat.
12. Electric
Light Orchestra - Face The Music
Eldorado, de 1974, talvez seja o disco em que
eles acertam a fórmula pela primeira vez, deixando que as melodias compostas
por Jeff Lynne brilhem sem a concorrência de inspirações psicodélicas herdadas
do Move e de Roy Wood. Neste quinto LP, eles continuam no mesmo caminho e o
aperfeiçoam. Graças a eles, criei um subgênero bem particular, que utilizo de
vez em quando: o pop perfeito.
13. Moraes
Moreira – Moraes Moreira
Com a saída
de Moraes dos Novos Baianos, os admiradores do grupo ganharam duas carreiras
maravilhosas, pelo menos nos anos 1970, pois a banda continuou excelente sem
Moraes, lançando, já em dezembro de 1974, o magistral Vamos pro Mundo, e
Moraes iniciou uma maravilhosa carreira solo com este disco e lançaria outras
maravilhas até, pelo menos, 1981.
14. Gentle
Giant - Free Hand
Digamos que
entre vários discos da lista que incluem inspirações do rock progressivo em
algumas faixas, este é o único que pode ser chamado de progressivo sem maior
crise. Um discaço cheio de inspirações melódicas e quebradas jazzísticas de uma
banda até hoje subestimada.
15. Ohio
Players – Honey
Entre 1974 e
1976 esta banda de soul e funk lançou quatro discos essenciais, todos com capas
sensuais e hoje censuradas no Rate Your Music. Este Honey, único de 1975
e com o maior sucesso deles, "Love Rollercoaster", talvez seja o
ponto culminante.
16. Bee
Gees – Main Course
"Nights
on Broadway", sozinha, já seria o bastante para colocar este disco em
qualquer lista. Mas tem muito mais nesta pérola pop-dançante que abria as
portas para a disco music e para o falsete de Barry Gibb brilhar.
17. Alphonse
Mouzon – Mind Transplant
Em 1974,
Mouzon tocou bateria no explêndido primeiro disco da Eleventh House de Larry
Coryell. Em 1975, ele tocou no segundo disco da banda de Coryell, que é
ligeiramente inferior (o que significa que ainda é muito bom), mas lançou
também este seu terceiro disco solo, um magnífico petardo de quebradeira
jazz-rock que ganhou 1 estrela da revista Rolling Stone da época (que às vezes
parecia revista de humor). Dois guitarristas sublimes participam do disco: Lee
Ritenour e Tommy Bolin. Jazz e rock unidos também nas guitarras do disco.
18. Earth
Wind & Fire - That's the Way of the World
O sexto disco
desta banda mágica tem "Shining Star" e "Reasons". Precisa
mais? Pois tem. E muito mais. Obrigatório, como tudo que a banda fez entre 1971
e 1981.
19. 10cc –
The Original Soundtrack
Terceiro e mais
famoso disco da excelente banda de art rock inglesa. É deste LP o maior sucesso
da banda, "I'm Not in Love". No ano seguinte, ainda lançariam o
magistral How Dare You!, último com a formação clássica.
20. Robert
Wyatt – Ruth is Stranger Than Richard
Brilhante
sequência para o magistral Rock Bottom, este disco tem participação de
Brian Eno em algumas faixas, e dois lados diferentes, o lado Ruth e o lado
Richard, um mais malucão que o outro, como o próprio título indica.
--------------------------------------------------------------
+ 12
discos, porque sim
Patti
Smith – Horses
Primeiro
discaço da diva punk.
Invisible
– Durazno Sangrando
Sublime prog
argentino da família Spinetta.
Harmonium
– Si on Avait Besoin d'une Cinquième Saison
Segundo e melhor
LP da belíssima banda prog de Quebec.
Bob Dylan
– Blood on the Tracks
Este e Desire
(de janeiro de 1976) formam uma dupla essencial.
Mahavishnu
Orchestra - Visions of the Emerald Beyond
Seleção de
músicos do jazz rock e um de seus melhores discos.
Caetano
Veloso - Qualquer Coisa
O outro lado
é jóia. Este é mais jóia ainda.
Hawkwind –
Warrior on the Edge of Time
Último disco
da banda com Lemmy Kilmister. Clássico do space rock.
The
Pointer Sisters – Steppin'
Rumo a um pop
soul tão bom quanto o jazz que faziam anteriormente.
Renaissance
- Sheherazade and Other Stories
Só
"Ocean Gypsy" já vale o disco. E ainda tem a suíte que o intitula.
Rufus –
Rufus featuring Chaka Khan
Funk na
cabeça, com a voz maravilhosa de Chaka Khan.
Kayak – Royal
Bed Bouncer
Pop demais
para os proggers, prog demais para os poppers.
Split Enz
– Mental Notes
Proto new wave
da Nova Zelândia.